Os Estados Unidos no cerne da crise
A crise foi provocada pela dinâmica que jaz no cerne da própria economia estado-unidense. Por um lado, há uma reequilibragem destes desequilíbrios internos e externos pela drenagem para o exterior de capital estrangeiro duradouro numa escala internacional. Isto pode ser visto como uma operação das classes dominantes dos EUA, absorvendo riqueza do resto do mundo. Por outro lado, causou a maior concentração de riqueza dentro do país em um século. Isto pode ser mostrado por algumas estatísticas: do total de rendimentos nos Estados Unidos, a fatia de rendimento monopolizada pelos 1% mais ricos era de 10% em 1979; em 2009, era de 25%; a proporção dos 10% mais ricos era de um terço do total de rendimentos trinta anos atrás; agora, elevou-se à metade. A tremenda ascensão em lucros financeiros – através da acumulação de capital fictício – pelas classes dominantes deformou a economia dos EUA tomada como um todo. A taxa de poupança, por exemplo, tornou-se negativa pouco antes da crise (Herrera, 2011b).
Alguns dos principais factores que explicam a crise são "reais" e ligados à austeridade: a crise subprime, na qual muitas famílias pobres encontraram-se em incumprimento, também pode ser analisada pelas políticas de austeridade conduzidas ao longo de mais de 30 anos, as quais diminuíram salários, tornaram o emprego flexível e precário, estenderam o desemprego a uma escala maciça, degradaram condições de vida – políticas ditas neoliberais, que desaceleraram os motores que criam procura e tornaram-na artificial, portanto insustentável. Assim, este regime tem mantido o crescimento pela promoção da procura para consumo privado, enquanto afrouxava e aumentava linhas de crédito. Este boom sem precedentes no sistema de crédito revelou a crise de sobre-acumulação na sua versão actual. Numa sociedade onde um número crescente de indivíduos são excluídos ou deixados sem direitos, expandir oportunidades disponíveis para donos de capital só podia atrasar a desvalorização de fundos excedentes investidos em mercados financeiros – mas não evitá-la.
Uma das manifestações da crise foi uma destruição brutal de capital fictício. Em 2008, a capitalização das bolsas de valores mundiais caiu de 48,3 para 26,1 milhões de milhões de dólares. Esta espiral descendente no valor dos activos foi acompanhada por uma perda de confiança e uma situação de iliquidez no mercado inter-bancário – sendo explicação mais provável uma insolvência de muitos bancos. Consequentemente, num contexto onde os preços de derivativos compósitos e os riscos que transportam eram cada vez mais mal avaliados, os problemas mudaram-se do sector habitacional subprime para aquele dos créditos de créditos, a seguir para empréstimos solventes (primes), antes do estouro da bolha das ferramentas ligadas a hipotecas habitacionais contaminarem os outros sectores dos mercados financeiros e, a partir dali, do próprio mercado monetário.
Para além da destruição de capital fictício que leva a quedas drásticas na capitalização de mercado, [2] é todo o sistema de financiamento da economia que ficou bloqueado. Portanto, as economias entraram em depressão conjunturalmente a partir de 2007 – mas também, por razões estruturais, num mundo onde pico foi atingido para centros recursos naturais estratégicos (dentre eles, o petróleo) e onde a busca de novas fontes de energia coloca limites objectivos ao crescimento, tudo isto dando origem a pressões para guerras. Em consequência, os indicadores económicos foram afectados: quedas na taxa de crescimento do PIB (Figuras 1 e 2), no consumo familiar e no comércio externo, défices de exploração para numerosas empresas, desemprego, perdas no sector habitacional, etc.
Multiplicaram-se bancarrotas de empresas e afectaram alguns líderes em sectores industriais que registaram perdas abissais (General Motors, por exemplo). Daí a explosão da taxa de desemprego para mais de 10% da força de trabalho no quarto trimestre de 2009. Seguindo a definição oficial e bastante restritiva, o desemprego atingiu aproximadamente 15 milhões de pessoas em 2010 (Figura 3). E sua estrutura deteriorou-se: a proporção de desempregados a longo prazo aumentou drasticamente a partir do segundo semestre de 2008. Os sectores de produção tradicionais foram os mais gravemente afectados (indústria, construção, agricultura); e as comunidades afro-americana e hispânica – ou "raças", conforme o vocabulário padrão da administração dos EUA – sofreram mais do que outras. Simultaneamente, os lucros total corporativos apropriados por todos os oligopólios estado-unidenses da alta finança – isto é, utilizando a mesma terminologia, as instituições financeiras interna, incluindo sectores das finanças, banca e seguros – recuperaram-se muito rapidamente, retornando em 2009 para o mesmo nível de 2001 e então, no fim de 2010, para o mesmo nível de lucros do momento anterior ao estalar da crise (Figura 4).
Uma das principais características do caminho neoliberal era, até a economia ter implodido, uma baixa taxa de acumulação nos Estados Unidos. Em 2000, a seguir à alta em valor conduzida pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a queda provocada pelo estouro da bolha da "nova economia", causou um acentuado arrefecimento da actividade económica. Durante os mandatos de George W. Bush, o crescimento do PIB nunca foi superior à taxa de 2,5% em qualquer ano. Esta taxa declinou outra vez durante o Verão de 2007 e entrou em colapso no segundo semestre de 2008, com a "crise financeira" no sector imobiliário propagando-se a toda a economia. Desde o fim de 2006, os ganhos de produtividade registados após o aumento temporário durante o episódio da "nova economias" desaceleraram-se e convergiram rumo à sua muito mais moderada tendência de longo prazo.
Alguns aspectos preocupantes da crise estão ligados à elevada dívida pública, particularmente aquela do governo federal, o qual "nacionalizou" parcialmente dívidas privadas. Há também a contrapartida externa deste processo conduzido pelo endividamento maciço, isto é, a deterioração da balança de pagamentos dos EUA, especialmente os défices de transacções correntes. Isto envolveu uma depreciação pronunciada do dólar em comparação ao euro e ao yen. Os desequilíbrios externos dos Estados Unidos, os quais ainda têm à sua disposição a divisa do sistema monetário internacional, foram compensados pelas sempre crescentes influxos sustentáveis de capital do resto do mundo, China inclusive. Até agora, Washington tem sido capa de forçar todos – desde os seus parceiros do Norte (Europa e Japão) até os seus potenciais rivais do Sul (como os BRICS e, especialmente, a China) – a enviar capital para os Estados Unidos; mas por quanto tempo mais?
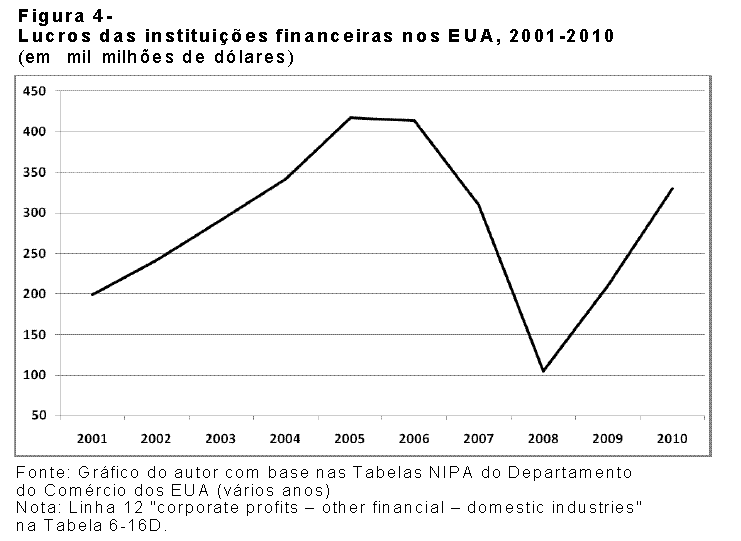







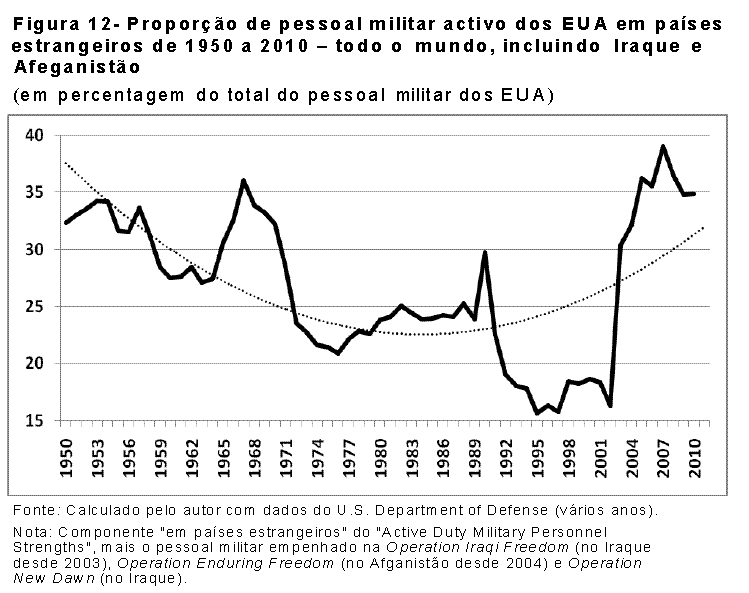

A crise foi provocada pela dinâmica que jaz no cerne da própria economia estado-unidense. Por um lado, há uma reequilibragem destes desequilíbrios internos e externos pela drenagem para o exterior de capital estrangeiro duradouro numa escala internacional. Isto pode ser visto como uma operação das classes dominantes dos EUA, absorvendo riqueza do resto do mundo. Por outro lado, causou a maior concentração de riqueza dentro do país em um século. Isto pode ser mostrado por algumas estatísticas: do total de rendimentos nos Estados Unidos, a fatia de rendimento monopolizada pelos 1% mais ricos era de 10% em 1979; em 2009, era de 25%; a proporção dos 10% mais ricos era de um terço do total de rendimentos trinta anos atrás; agora, elevou-se à metade. A tremenda ascensão em lucros financeiros – através da acumulação de capital fictício – pelas classes dominantes deformou a economia dos EUA tomada como um todo. A taxa de poupança, por exemplo, tornou-se negativa pouco antes da crise (Herrera, 2011b).
Alguns dos principais factores que explicam a crise são "reais" e ligados à austeridade: a crise subprime, na qual muitas famílias pobres encontraram-se em incumprimento, também pode ser analisada pelas políticas de austeridade conduzidas ao longo de mais de 30 anos, as quais diminuíram salários, tornaram o emprego flexível e precário, estenderam o desemprego a uma escala maciça, degradaram condições de vida – políticas ditas neoliberais, que desaceleraram os motores que criam procura e tornaram-na artificial, portanto insustentável. Assim, este regime tem mantido o crescimento pela promoção da procura para consumo privado, enquanto afrouxava e aumentava linhas de crédito. Este boom sem precedentes no sistema de crédito revelou a crise de sobre-acumulação na sua versão actual. Numa sociedade onde um número crescente de indivíduos são excluídos ou deixados sem direitos, expandir oportunidades disponíveis para donos de capital só podia atrasar a desvalorização de fundos excedentes investidos em mercados financeiros – mas não evitá-la.
Uma das manifestações da crise foi uma destruição brutal de capital fictício. Em 2008, a capitalização das bolsas de valores mundiais caiu de 48,3 para 26,1 milhões de milhões de dólares. Esta espiral descendente no valor dos activos foi acompanhada por uma perda de confiança e uma situação de iliquidez no mercado inter-bancário – sendo explicação mais provável uma insolvência de muitos bancos. Consequentemente, num contexto onde os preços de derivativos compósitos e os riscos que transportam eram cada vez mais mal avaliados, os problemas mudaram-se do sector habitacional subprime para aquele dos créditos de créditos, a seguir para empréstimos solventes (primes), antes do estouro da bolha das ferramentas ligadas a hipotecas habitacionais contaminarem os outros sectores dos mercados financeiros e, a partir dali, do próprio mercado monetário.
Para além da destruição de capital fictício que leva a quedas drásticas na capitalização de mercado, [2] é todo o sistema de financiamento da economia que ficou bloqueado. Portanto, as economias entraram em depressão conjunturalmente a partir de 2007 – mas também, por razões estruturais, num mundo onde pico foi atingido para centros recursos naturais estratégicos (dentre eles, o petróleo) e onde a busca de novas fontes de energia coloca limites objectivos ao crescimento, tudo isto dando origem a pressões para guerras. Em consequência, os indicadores económicos foram afectados: quedas na taxa de crescimento do PIB (Figuras 1 e 2), no consumo familiar e no comércio externo, défices de exploração para numerosas empresas, desemprego, perdas no sector habitacional, etc.
Multiplicaram-se bancarrotas de empresas e afectaram alguns líderes em sectores industriais que registaram perdas abissais (General Motors, por exemplo). Daí a explosão da taxa de desemprego para mais de 10% da força de trabalho no quarto trimestre de 2009. Seguindo a definição oficial e bastante restritiva, o desemprego atingiu aproximadamente 15 milhões de pessoas em 2010 (Figura 3). E sua estrutura deteriorou-se: a proporção de desempregados a longo prazo aumentou drasticamente a partir do segundo semestre de 2008. Os sectores de produção tradicionais foram os mais gravemente afectados (indústria, construção, agricultura); e as comunidades afro-americana e hispânica – ou "raças", conforme o vocabulário padrão da administração dos EUA – sofreram mais do que outras. Simultaneamente, os lucros total corporativos apropriados por todos os oligopólios estado-unidenses da alta finança – isto é, utilizando a mesma terminologia, as instituições financeiras interna, incluindo sectores das finanças, banca e seguros – recuperaram-se muito rapidamente, retornando em 2009 para o mesmo nível de 2001 e então, no fim de 2010, para o mesmo nível de lucros do momento anterior ao estalar da crise (Figura 4).
Uma das principais características do caminho neoliberal era, até a economia ter implodido, uma baixa taxa de acumulação nos Estados Unidos. Em 2000, a seguir à alta em valor conduzida pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a queda provocada pelo estouro da bolha da "nova economia", causou um acentuado arrefecimento da actividade económica. Durante os mandatos de George W. Bush, o crescimento do PIB nunca foi superior à taxa de 2,5% em qualquer ano. Esta taxa declinou outra vez durante o Verão de 2007 e entrou em colapso no segundo semestre de 2008, com a "crise financeira" no sector imobiliário propagando-se a toda a economia. Desde o fim de 2006, os ganhos de produtividade registados após o aumento temporário durante o episódio da "nova economias" desaceleraram-se e convergiram rumo à sua muito mais moderada tendência de longo prazo.
Alguns aspectos preocupantes da crise estão ligados à elevada dívida pública, particularmente aquela do governo federal, o qual "nacionalizou" parcialmente dívidas privadas. Há também a contrapartida externa deste processo conduzido pelo endividamento maciço, isto é, a deterioração da balança de pagamentos dos EUA, especialmente os défices de transacções correntes. Isto envolveu uma depreciação pronunciada do dólar em comparação ao euro e ao yen. Os desequilíbrios externos dos Estados Unidos, os quais ainda têm à sua disposição a divisa do sistema monetário internacional, foram compensados pelas sempre crescentes influxos sustentáveis de capital do resto do mundo, China inclusive. Até agora, Washington tem sido capa de forçar todos – desde os seus parceiros do Norte (Europa e Japão) até os seus potenciais rivais do Sul (como os BRICS e, especialmente, a China) – a enviar capital para os Estados Unidos; mas por quanto tempo mais?
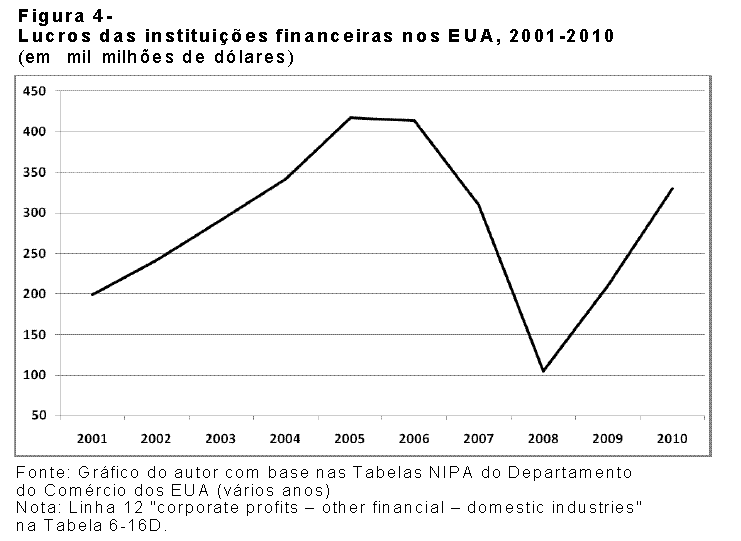


Politicas anti-crise e guerra de divisas
Politicas anti-crise e guerra de divisas
A primeira tentativa do governo americano para contrapor-se à crise consistiu em coordenar as acções dos bancos centrais para injectar liquidez no mercado inter-bancário. Fez isto através da criação de moeda primária, oferecendo linhas especiais de crédito aos bancos líderes primários e reduzindo taxas de juros. Um ponto de viragem verificou-se depois de as autoridades monetárias evitarem intervir durante a bancarrota do Lehman Brothers em meados de Setembro de 2008. Dentro de poucas horas, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve fizeram um giro de 180º: um certo número de instituições financeiras em perigo (como a companhia de seguros AIG) foram nacionalizadas – geralmente sem que o governo obtivesse o direito de voto ou qualquer controle acrescido –, vendas a descoberto foram temporariamente suspensas na Grã-Bretanha, a seguir nos Estados Unidos; o Fede abriu enormes linhas de crédito para os dealers primários em condições especiais, com taxas de juro de quase zero; o governo ajudou estes estabelecimentos privados a organizarem a tomada de grupos em bancarrota e a recapitalizá-los...
Por outras palavras, o governo federal apoiou fortemente os esforços dos oligopólios financeiros para concentrar a propriedade e o controle do capital, levando à hiper-centralização. O Citigroup tomou o Lehman Brothers, o Bank of America tomou o Merrill Lynch, o Morgan tomou o banco de poupanças Washington Mutual, etc. Foi criado um "cancelamento" ("defeasance") de fundos, de modo que o estado garantisse títulos "tóxicos". Finalmente – isto foi a medida crucial – em Outubro de 2008 o Fed estendeu sua organização de linhas swap ou "disposições temporárias recíproca sobre divisas" aos bancos centrais nos maiores países do Norte bem como do Sul (México, Coreia do Sul, ...), tornando-as quase "ilimitadas" (Herrera, 2010b).
A seguir, houve o planos Paulson Nº 1 e Nº 2 e os programas para o apoio geral à economia estado-unidense (incluindo a General Motors, sem impedir despedimentos maciços) – e, pelo caminho, a recapitalização do Fed, o qual estava no fim do seus recursos... Contudo, no princípio de 2011, o presidente do Federal Reserve advertiu tanto o Tesouro como o Congresso dos EUA de que a sua instituição não continuaria a financiar défices públicos extra, que tinha de haver um retorno a maior rigor e que as taxas de juro tinham de ser aumentadas...
No entanto, uma ascensão da taxa de juro envolveria dois grandes riscos: para os Estados Unidos, que o fardo da dívida pública se tornasse ainda mais pesado e a sua dinâmica incontrolável; e para o resto do mundo, que os fluxos de capital que o abandonam recomeçassem a financiar os défices nos Estados Unidos, permitindo-lhes continuarem a viver mais uma vez acima dos seus meios.
Dentre os mais gritantes efeitos da crise actual está a exacerbação de uma "guerra de divisas". Num ambiente altamente incerto, a criação maciça de moeda e a fixação de taxas de juro apenas acima de zero, juntamente com enormes défices fiscais – o défice orçamental correspondente a aproximadamente 10% do PIB nos Estados Unidos (Figura 6) – e o aumento desproporcionado da dívida pública (Figura 7), tudo isto provocou uma depreciação do US dólar e uma "guerra de divisas". Esta última a esta altura está a ser paradoxalmente vencida pelo próprio dólar, pela razão fundamental de que os Estados Unidos têm à sua disposição uma arma extraordinária: seu banco central pode criar montantes quase ilimitados de moeda a qual é aceite por todos os países estrangeiros, porque até agora o dólar permanece a divisa de reserva mundial.
Isto permite aos Estados Unidos imporem sobre o resto do mundo os termos de uma capitulação que os obrigas a prosseguirem políticas neoliberais, bem como a suportar a taxa de câmbio do dólar que melhor se adeque à estratégia de dominação dos EUA – mesmo se isto implicar uma depreciação imediata das enormes reservas de divisas mantidas pelas autoridades monetárias de outros países, como o BRICS. O problema com tal estratégia é que, durante anos, o défice comercial e a produção interna dos EUA reagiram pouco ao rebaixamento do valor do dólar: isto resulta num fraco crescimento económico nos Estados Unidos, numa situação que tem piorado porque agora as causas das dificuldades decorrem de todo o sistema de financiamento da economia.
Os efeitos da actual crise sistémica variam conforme as características das economias do Sul e o grau da sua integração no sistema capitalista mundial. Alguns países estão tão excluídos e presos em armadilhas de pobreza que a crise parece não afectá-los. Mas, na realidade, é impressionante para todos eles, sejam eles "emergentes" ou não. Fundamentalmente, parece que todas as condições estão a combinar-se de modo que uma grande consequência da crise poderia ser um aprofundamento da confrontação Norte-Sul – apesar dos recentes movimentos do G20 para "cooptar" países sulistas – num mundo em que os níveis das contradições estão a tornar-se cada vez mais complexos.
No Sul, uma grande maioria de governos optou por continuar a manter o capitalismo – ou uma das suas variantes – em vigor. No entanto, nossa opinião é que esta estratégia não é solução. É impossível no Sul resolver as profundas contradições produzidas pelo sistema capitalista (por exemplo, aquelas devidas à recusa de acesso à terra a camponeses), e isto leva os países sulistas a entrarem em conflito com as potências do Norte. Isto é claramente o caso num período em que são necessárias transferências de capital em direcção aos Estados Unidos, em ainda maiores proporções, para travar a espiral de desvalorização de capital fictício.
Estas transferências do Sul em direcção aos Estados Unidos operam através de diferentes canais: repatriação de lucros de investimentos directos estrangeiros ou de carteira de investimentos; reembolso de dívidas externas, transformação de reservas oficiais em créditos (concedidos aos Estados Unidos), intercâmbio desigual, mas também fugas de capital, corrupção... (Nakatani e Herrera, 2007). É provável que tais transferências em breve tenham de acelerar-se para garantir o resgate da alta finança e evitar bancarrotas nos centros capitalistas. Tudo isto se verifica enquanto os Estados Unidos tem o arsenal militar necessário para impor esta drenagem de capital duradouro do resto do mundo (Figuras 7, 8 e 9).
A primeira tentativa do governo americano para contrapor-se à crise consistiu em coordenar as acções dos bancos centrais para injectar liquidez no mercado inter-bancário. Fez isto através da criação de moeda primária, oferecendo linhas especiais de crédito aos bancos líderes primários e reduzindo taxas de juros. Um ponto de viragem verificou-se depois de as autoridades monetárias evitarem intervir durante a bancarrota do Lehman Brothers em meados de Setembro de 2008. Dentro de poucas horas, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve fizeram um giro de 180º: um certo número de instituições financeiras em perigo (como a companhia de seguros AIG) foram nacionalizadas – geralmente sem que o governo obtivesse o direito de voto ou qualquer controle acrescido –, vendas a descoberto foram temporariamente suspensas na Grã-Bretanha, a seguir nos Estados Unidos; o Fede abriu enormes linhas de crédito para os dealers primários em condições especiais, com taxas de juro de quase zero; o governo ajudou estes estabelecimentos privados a organizarem a tomada de grupos em bancarrota e a recapitalizá-los...
Por outras palavras, o governo federal apoiou fortemente os esforços dos oligopólios financeiros para concentrar a propriedade e o controle do capital, levando à hiper-centralização. O Citigroup tomou o Lehman Brothers, o Bank of America tomou o Merrill Lynch, o Morgan tomou o banco de poupanças Washington Mutual, etc. Foi criado um "cancelamento" ("defeasance") de fundos, de modo que o estado garantisse títulos "tóxicos". Finalmente – isto foi a medida crucial – em Outubro de 2008 o Fed estendeu sua organização de linhas swap ou "disposições temporárias recíproca sobre divisas" aos bancos centrais nos maiores países do Norte bem como do Sul (México, Coreia do Sul, ...), tornando-as quase "ilimitadas" (Herrera, 2010b).
A seguir, houve o planos Paulson Nº 1 e Nº 2 e os programas para o apoio geral à economia estado-unidense (incluindo a General Motors, sem impedir despedimentos maciços) – e, pelo caminho, a recapitalização do Fed, o qual estava no fim do seus recursos... Contudo, no princípio de 2011, o presidente do Federal Reserve advertiu tanto o Tesouro como o Congresso dos EUA de que a sua instituição não continuaria a financiar défices públicos extra, que tinha de haver um retorno a maior rigor e que as taxas de juro tinham de ser aumentadas...
No entanto, uma ascensão da taxa de juro envolveria dois grandes riscos: para os Estados Unidos, que o fardo da dívida pública se tornasse ainda mais pesado e a sua dinâmica incontrolável; e para o resto do mundo, que os fluxos de capital que o abandonam recomeçassem a financiar os défices nos Estados Unidos, permitindo-lhes continuarem a viver mais uma vez acima dos seus meios.
Dentre os mais gritantes efeitos da crise actual está a exacerbação de uma "guerra de divisas". Num ambiente altamente incerto, a criação maciça de moeda e a fixação de taxas de juro apenas acima de zero, juntamente com enormes défices fiscais – o défice orçamental correspondente a aproximadamente 10% do PIB nos Estados Unidos (Figura 6) – e o aumento desproporcionado da dívida pública (Figura 7), tudo isto provocou uma depreciação do US dólar e uma "guerra de divisas". Esta última a esta altura está a ser paradoxalmente vencida pelo próprio dólar, pela razão fundamental de que os Estados Unidos têm à sua disposição uma arma extraordinária: seu banco central pode criar montantes quase ilimitados de moeda a qual é aceite por todos os países estrangeiros, porque até agora o dólar permanece a divisa de reserva mundial.
Isto permite aos Estados Unidos imporem sobre o resto do mundo os termos de uma capitulação que os obrigas a prosseguirem políticas neoliberais, bem como a suportar a taxa de câmbio do dólar que melhor se adeque à estratégia de dominação dos EUA – mesmo se isto implicar uma depreciação imediata das enormes reservas de divisas mantidas pelas autoridades monetárias de outros países, como o BRICS. O problema com tal estratégia é que, durante anos, o défice comercial e a produção interna dos EUA reagiram pouco ao rebaixamento do valor do dólar: isto resulta num fraco crescimento económico nos Estados Unidos, numa situação que tem piorado porque agora as causas das dificuldades decorrem de todo o sistema de financiamento da economia.
Os efeitos da actual crise sistémica variam conforme as características das economias do Sul e o grau da sua integração no sistema capitalista mundial. Alguns países estão tão excluídos e presos em armadilhas de pobreza que a crise parece não afectá-los. Mas, na realidade, é impressionante para todos eles, sejam eles "emergentes" ou não. Fundamentalmente, parece que todas as condições estão a combinar-se de modo que uma grande consequência da crise poderia ser um aprofundamento da confrontação Norte-Sul – apesar dos recentes movimentos do G20 para "cooptar" países sulistas – num mundo em que os níveis das contradições estão a tornar-se cada vez mais complexos.
No Sul, uma grande maioria de governos optou por continuar a manter o capitalismo – ou uma das suas variantes – em vigor. No entanto, nossa opinião é que esta estratégia não é solução. É impossível no Sul resolver as profundas contradições produzidas pelo sistema capitalista (por exemplo, aquelas devidas à recusa de acesso à terra a camponeses), e isto leva os países sulistas a entrarem em conflito com as potências do Norte. Isto é claramente o caso num período em que são necessárias transferências de capital em direcção aos Estados Unidos, em ainda maiores proporções, para travar a espiral de desvalorização de capital fictício.
Estas transferências do Sul em direcção aos Estados Unidos operam através de diferentes canais: repatriação de lucros de investimentos directos estrangeiros ou de carteira de investimentos; reembolso de dívidas externas, transformação de reservas oficiais em créditos (concedidos aos Estados Unidos), intercâmbio desigual, mas também fugas de capital, corrupção... (Nakatani e Herrera, 2007). É provável que tais transferências em breve tenham de acelerar-se para garantir o resgate da alta finança e evitar bancarrotas nos centros capitalistas. Tudo isto se verifica enquanto os Estados Unidos tem o arsenal militar necessário para impor esta drenagem de capital duradouro do resto do mundo (Figuras 7, 8 e 9).





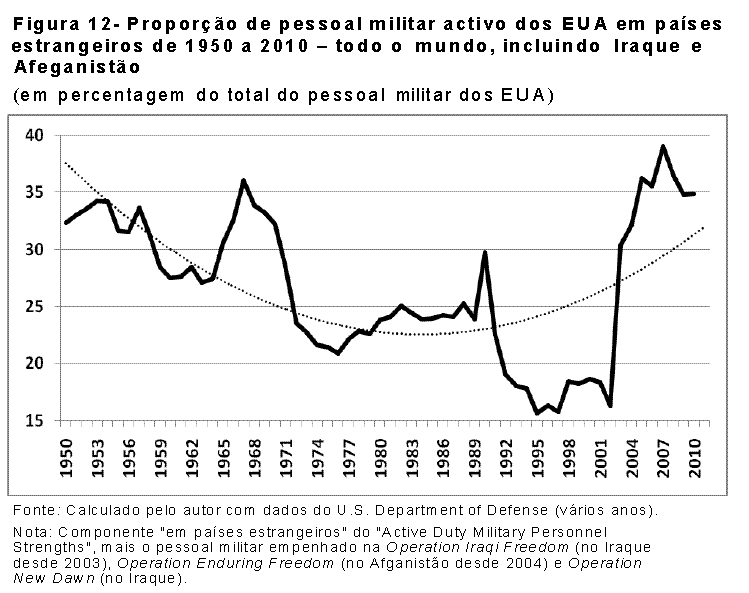

Tabela 1- Principais companhias de armamento no mundo em 2010
Fonte: News Defence (2011).
(mil milhões de dólares) | |||
| 1 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 42.025 |
| 2 | BAE Systems | Reino Unido | 33.418 |
| 3 | Boeing | Estados Unidos | 31.932 |
| 4 | Northrop Grumman | Estados Unidos | 30.656 |
| 5 | General Dynamics | Estados Unidos | 25.904 |
| 6 | Raytheon Co. | Estados Unidos | 23.139 |
| 7 | EADS | Holanda | 15.013 |
| 8 | Finmeccanica | Itália | 13.332 |
| 9 | L-3 Communications | Estados Unidos | 13.014 |
| 10 | United Technologies | Estados Unidos | 11.100 |
| 11 | SAIC | Estados Unidos | 8.400 |
| 12 | Thales | França | 8.032 |
| 13 | ITT | Estados Unidos | 6.097 |
| 14 | KBR | Estados Unidos | 5.410 |
| 15 | Honeywell | Estados Unidos | 5.382 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário